Elias de Lemos (Correio9)

As ideias que orientam as políticas econômicas do mundo capitalista são originárias da teoria keynesiana, escrita por um dos maiores pensadores econômicos de todos os tempos, o inglês John Maynard Keynes. O ponto nevrálgico da economia keynesiana é a ideia de que a política fiscal (formas de tributação e gastos governamentais) deve – sempre – ser usada como ferramenta de controle da economia. Esta ideia surgiu tendo como pano de fundo a Grande Depressão de 1929 – a maior crise econômica da história.
As ideias keynesianas foram fundamentais para a compreensão dos problemas estruturais que levaram à grande crise. Elas serviram de base para a adoção de medidas de combate às causas da Depressão. Os princípios keynesianos ajudaram a modelar a economia do mundo atual, sendo muito respeitados e seguidos até hoje, sem distinção entre economia.
A obra-prima de Keynes é a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda (1936) – foi uma resposta direta à Grande Depressão. O grande problema da crise foram os altos índices de desemprego, que atingiram os maiores níveis da história. Diante do problema, até então desconhecido, ele disse que os governos deveriam assumir a responsabilidade pelo impulso para a retomada da economia.
Keynes disse que com a realização de investimentos por parte dos governos, começaria uma dinâmica econômica com a contratação de empresas para executarem as obras. Com isso, as empresas começariam a contratar trabalhadores. Isso iniciaria a redução do desemprego, gerando emprego e renda. Com o gasto da renda recebida pelos novos empregados, começaria um ciclo econômico envolvendo outros setores, como serviços, lazer, indústria, comércio, etc.
Keynes fez o contraponto a uma ideia apresentada pelo francês Jean-Baptiste Say (1767-1832), que dizia que na economia como um todo “a oferta cria sua própria demanda”, ou seja, a mera produção de bens produz a demanda por eles, mantendo a rotação econômica. Keynes provou o contrário.
A Grande Depressão foi o divisor de águas do que se entendia sobre economia. Até à Crise, supunha-se que a economia era autorregulada, em sua maior parte por uma “mão invisível”, que colocava “tudo em seu devido lugar no devido momento”.
Assim, deixada por conta própria – do setor privado – o nível de emprego e a produção econômica seriam sempre satisfatórios. Este era o entendimento clássico, ‘fundamentado’ na teoria de outro inglês, Adam Smith (na prática não é bem assim, mas não é possível tratar deste assunto neste artigo). Keynes discordou completamente.
Para Keynes, durante um período de queda, a baixa demanda por bens poderia causar uma grave depressão fazendo com que a economia se contraísse e gerasse desemprego. Isso levaria à chamada ‘recessão’. Grosso modo, a recessão é quando a economia vai encolhendo. Assim, a cada trimestre a produção é menor. Por consequência, o emprego também.
O governo teria a responsabilidade de dar a partida na economia emprestando dinheiro e gastando, também, contratando pessoal para o setor público e destinando verbas para projetos de infraestrutura pública – por exemplo, construindo estradas, hospitais e escolas. O corte da taxa de juros poderia ajudar a melhorar a economia, mas não resolveria tudo.
Segundo Keynes, os valores gastos pelo governo iriam se infiltrar pela economia. A construção de uma nova estrada, por exemplo, cria trabalho para construtoras, cujos funcionários gastam seu dinheiro em alimentos, bens e serviços, o que, por sua vez, ajuda a manter ativa a economia como um todo. O ponto central de seu argumento era a ideia do multiplicador dentro da economia, em que a renda gerada inicialmente começaria uma bolha de circulação contaminando e estimulando outros segmentos até que chegasse ao ponto ideal.
Digamos que o governo brasileiro abra licitações que somem R$ 100 bilhões, na construção de metrôs, rodovias, portos e saneamento. Uma ideia simples poderia presumir que o efeito disso seria a mera execução de obras. As empresas, contratadas, contratam mais operários, ao mesmo tempo, aumentam seus lucros; enquanto seus trabalhadores gastam mais em bens de consumo. Isso vai multiplicando a geração de renda elevando a produção total da economia a um valor bem superior ao do dinheiro público gasto na compra.
Após o lançamento da Teoria Geral, os governos mudaram, completamente, suas visões sobre política fiscal. Desde então, a gestão fiscal passou a ser executada com o aumento drástico nos níveis de gastos públicos, em parte por motivos sociais – para criar o chamado “Estado de bem-estar social” para enfrentar as consequências dos altos níveis de desemprego – e em parte porque a economia keynesiana destaca a importância do controle governamental sobre parcelas importantes e estratégicas da economia.
Durante um bom tempo, isso pareceu funcionar, com a inflação e o desemprego em níveis relativamente baixos e uma forte expansão econômica, mas na década de 1970 as políticas keynesianas foram alvo de críticas, especialmente por parte dos monetaristas. Um de seus principais argumentos era que os governos não conseguem fazer o “ajuste fino” de uma economia ajustando regularmente as políticas fiscais e monetárias para manter um alto nível de emprego.
Um ponto importante é considerar a existência de uma defasagem longa entre o momento em que se identifica a necessidade de uma determinada política econômica (digamos, uma redução nos impostos) e o momento em que esta política tem efeito – mesmo que o governo identifique rapidamente o problema, leva tempo até uma lei ser redigida e aprovada, e mais tempo ainda até o corte nos impostos gerar efeito na economia. Quando os cortes estiverem tendo efeito real, o problema que deveriam solucionar pode ter piorado ou desaparecido.
Ironicamente, no entanto, as ideias de Keynes voltaram ao cenário com força após a crise financeira de 2008. Quando ficou claro que as reduções nas taxas de juros não seriam suficientes para impedir que as economias dos Estados Unidos, do Reino Unido e outras entrassem em recessão, os economistas disseram que os governos deveriam emprestar dinheiro a fim de reduzir os impostos e, também, aumentar gastos. Foi exatamente o que fizeram, no que foi considerada uma séria ruptura com as políticas adotadas nas duas décadas e meia anteriores.
Contra todos os prognósticos, Keynes estava de volta.
Contrariando o pensamento keynesiano, o governo brasileiro, o mercado e a mídia vêm pregando, exatamente, o contrário: corte de gastos, corte de renda nos inativos (através da reforma da Previdência) e o congelamento de gastos e investimentos governamentais, além do aumento de impostos. Mesmo assim, vêm prometendo a retomada do crescimento econômico, do emprego e da renda. Talvez os economistas – do governo, do mercado e da grande mídia – não tenham lido Keynes.
* O autor é economista, professor, jornalista e editor-chefe do Jornal Correio9























































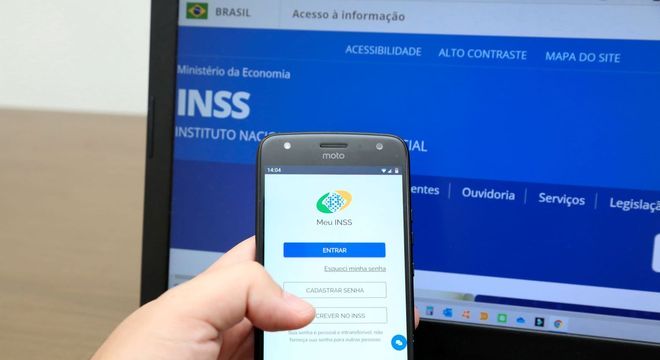







































































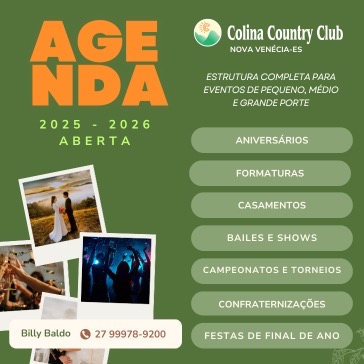
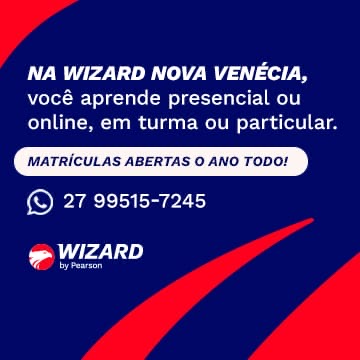

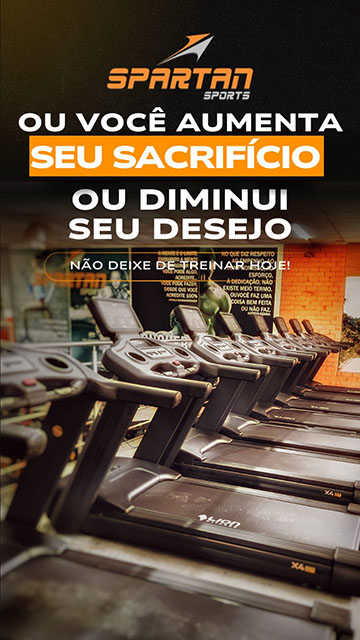










Comente este post